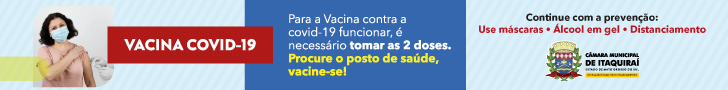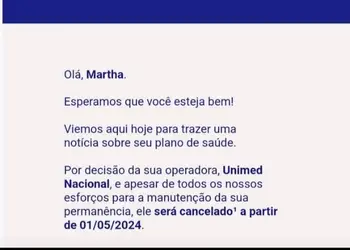"Kit covid é kit ilusão": os dados que apontam riscos e falta de eficácia do suposto tratamento
Mais recentemente, quando a gripe espanhola de 1918 se espalhou pelos continentes, também não faltaram terapias milagrosas para lidar com a crise sanitária. Alguns especialistas lançaram fórmulas à base de formol, canela e até flores de jasmim amarelo para “curar” a doença que matou milhões de pessoas no mundo todo.
O mesmo cenário volta a se repetir agora, durante a pandemia de covid-19. Em meio a um número crescente de casos e mortes, parte dos médicos, parte da população e até o Ministério da Saúde defenderam um suposto tratamento precoce contra o coronavírus cuja eficácia não foi comprovada até o momento.
Segundo diversos estudos rigorosos realizados ao redor do mundo, medicamentos que integram esse “kit covid” ofertado nas fases iniciais da doença no Brasil já se mostraram inclusive ineficazes ou até mais prejudiciais do que benéficos quando administrados nos quadros leves, moderados e graves de covid-19.
Ao longo dos últimos meses, diversas entidades nacionais e internacionais se posicionaram contra o coquetel de medicamentos promovido pelo governo Bolsonaro, que inclui a hidroxicloroquina, a azitromicina, a ivermectina e a nitazoxanida, além dos suplementos de zinco e das vitaminas C e D.
Atualmente, esse mix farmacológico não é reconhecido ou chega a ser contra-indicado por entidades como a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos e da Europa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI).
Mas antes de entrar nos detalhes sobre como tantas instituições chegaram a essa conclusão de que esses remédios não são eficazes e de que não existe tratamento precoce que funcione contra a covid-19, é importante explicar como surge um novo remédio contra determinada doença e como esse processo pode ser acelerado durante uma pandemia.
Da bancada do laboratório à prateleira da farmácia
Geralmente, a descoberta de um novo tratamento se inicia com a pesquisa básica. Um grupo de cientistas começa a estudar uma molécula para entender suas características e seus potenciais de uso.
Essa substância, então, é testada num pequeno conjunto de células na bancada do laboratório. O objetivo aqui é entender se as coisas funcionam como o esperado e se aquele composto tem alguma ação interessante dentro de um sistema biológico simples.
Se tudo der certo, a próxima etapa inclui testes com cobaias. A nova molécula é administrada em camundongos, macacos e outros animais que apresentam algumas características semelhantes ao que ocorre no corpo humano.
Caso a candidata apresente bons resultados, ela passa para a nova etapa: os testes clínicos. Esses estudos são divididos em três fases, envolvem centenas ou até milhares de seres humanos e têm como objetivo final garantir a segurança e a eficácia daquela nova formulação.
O teste clínico de fase 3 costuma ser o mais rígido e amplo de todos. Para comprovar que aquele novo medicamento é realmente bom, os cientistas dividem os voluntários em pelo menos dois grupos.
O primeiro deles toma doses do remédio de verdade. Já o segundo vai receber uma substância placebo (sem nenhum efeito no organismo) ou o melhor tratamento existente até aquele momento contra a doença que o novo candidato a farmáco promete combater.
O ideal é que nem os cientistas, muito menos os participantes do estudo, saibam quem integra qual grupo. Isso evita vieses ou o chamado efeito placebo, quando a pessoa se sente melhor por acreditar que foi tratada, mesmo quando recebeu um comprimido de farinha.
O que acabamos de descrever aqui é um estudo randomizado (os voluntários são sorteados para entrar em um esquema terapêutico ou no outro), duplo cego (os participantes e os cientistas não fazem ideia de quem recebeu o quê) e controlado (uma parte do grupo tomou placebo ou a melhor terapia disponível até então). É considerado o padrão-ouro das pesquisas.
Depois de todo esse rito, os resultados dos dois grupos são comparados. O esperado é que a turma sorteada para tomar o candidato à medicamento esteja melhor em relação a quem fez parte do grupo placebo. Também é essencial que a nova molécula não provoque efeitos colaterais graves demais.
Os relatos de todo esse esforço são então publicados num jornal científico, onde eles passam por uma revisão de especialistas independentes e, caso sejam aprovados, poderão ser lidos, contestados e repetidos por outros grupos de pesquisa em qualquer lugar do mundo.
Se os resultados forem bons, os donos daquele novo produto entram com um pedido de aprovação nas agências regulatórias, como a Anvisa no Brasil e o FDA nos Estados Unidos. Se essas entidades estiverem de acordo com o que foi apresentado, elas liberam o uso do novo medicamento no país.
Para você ter ideia como esse processo é complicado e criterioso, de cada 5.000 moléculas testadas em células e cobaias, apenas uma consegue passar por todas as etapas e chegar às farmácias e aos hospitais. Esse processo dura, em geral, 12 anos e exige um investimento de US$ 2,6 bilhões.
Para ler a matéria completa na BBC Brasil clique aqui.