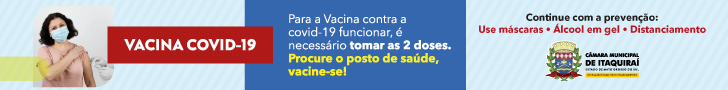Uma a cada três famílias de vítimas do massacre do Carandiru não recebeu indenização após 30 anos
FERNANDA MENATOULOUSE, FRANÇA (FOLHAPRESS) Apenas 75 famílias dos 111 mortos no dia 3 de outubro de 1992 no pavilhão 9 do presídio do Carandiru entraram com ações indenizatórias contra o Estado, quase todas iniciadas entre 1992 e 1997.
Os dados são de um estudo de Carolina Cutrupi e Maíra Machado do Núcleo de Estudos sobre o Crime e a Pena da FGV Direito de São Paulo.
Segundo o levantamento, a autoria das ações é majoritariamente de mães, companheiras e filhos de vítimas. O valor médio das indenizações nas ações de autoria individual foi de cerca de R$ 55 mil. Já nas ações de autoria coletiva, o valor médio foi de cerca de R$ 140 mil.
Veja também

Adolescente usava máscara de caveira e golpeou professora pelas costas em escola de SP, mostra vídeo
Uma análise mais minuciosa de 31 das ações revelou um tempo médio de tramitação dos processos, do início ao arquivamento, de 22 anos e seis meses. Em 16 casos, os autores morreram nesse percurso, e as ações foram assumidas por herdeiros.
“Em razão da demora dos pagamentos, muitos familiares cederam seus precatórios para empresas privadas, que compram esses créditos por valores muito menores do que aqueles decididos pela Justiça”, explica Cutrupi.
Cecília Asperti, pesquisadora de processo civil e professora da FGV, avaliou o conteúdo de dez dessas ações. “O caso Carandiru é o paradigma da falência do Estado na reparação de vítimas de violência estatal”, afirma.
Segundo ela, essas são ações relativamente simples do ponto de vista jurídico porque o “Estado tem uma responsabilidade objetiva quando ocorre alguma lesão causada por seus agentes, essas pessoas foram mortas em custódia do Estado”.
Mas sua análise apontou que a procuradoria do Estado, responsável por defender o governo paulista nesses processos, foi “excessivamente combativa” em juízo, alegando ora culpa exclusiva da própria vítima pela sua morte, ora legítima defesa das forças policiais que atuaram no presídio.
Em ambos os casos, a procuradoria buscava eximir o Estado da responsabilidade pelas mortes.
Para Maurício Monteiro, 53, sobrevivente do massacre do Carandiru, a reparação do caso passa essencialmente pelo reconhecimento do Estado de sua responsabilidade pelas mortes.
“Não é só a condenação dos agentes nem só a indenização dos familiares. O Estado tem que reconhecer que errou. E nós estamos nos organizando para uma ação coletiva na Justiça sobre isso.”
Monteiro é hoje educador no Espaço Memória Carandiru, mantido no subsolo de um dos antigos pavilhões do complexo penitenciário, e se diz descrente sobre a punição dos policiais condenados pelas mortes no pavilhão 9, onde ele ocupava a cela 313-E em 1992.
“Eu não acredito que esses policiais serão presos porque estão fazendo de tudo para eles não irem para a cadeia”, afirma. “Só que eu também não acreditava que um dia teríamos esse espaço com os nomes das 111 vítimas”, completa, apontando para seu entorno, durante entrevista por videoconferência.
Apresentado à versão relatada ao jornal pelo coronel da reserva da PM Walmir Corrêa Leite, que sugere que alguns policiais teriam sido condenados por mortes que não provocaram, Monteiro traça um paralelo com a sua própria experiência com a Justiça brasileira.
“Com a gente, é assim: se você está com caras que cometeram um crime, mas não fala nem prova quem foi que fez o quê, vai preso junto e já era”, diz.
“Não dá pra inocentar todo mundo que cometeu as mortes por causa disso”, avalia. “Até porque esses policiais são a corporação, um protege o outro, o que é lamentável. E ninguém foi preso até agora.”
Diferentemente do registro histórico, Monteiro afirma que não houve rebelião no dia 2, mas uma confusão entre dois presos que acabou envolvendo o chefe do plantão da carceragem, empurrado por um detento.
“Não estava acontecendo nada fora da rotina da Casa de Detenção. A tensão fazia parte da rotina”, diz.
“Quando começaram a gritar que a Rota estava entrando, eu falei: mano, nós tamo ferrado”, lembra ele. “A gente está falando de uma polícia com um alto índice de letalidade entrando num lugar onde, para eles, todos mereciam morrer”, diz.
Monteiro relata momentos de terror ao som de disparos. “Entrei na cela e me escondi atrás de um lençol. Um policial abriu o lençol e engatilhou quando entrou um tenente e falou: ‘Aqui, não’. Não posso deixar de citar esse tenente porque ele salvou a minha vida e a de todos na cela. Acho que foi porque já tinham matado gente demais, e não porque ele fosse bonzinho ou algo assim”, especula.
Depois dessa incursão das primeiras tropas, o sobrevivente diz que os presos foram orientados a se despir e descer as escadarias com as mãos na cabeça. No caminho, encontraram um corredor polonês formado por policiais de outros batalhões. “Nesse caminho, mano, eu vi muita gente sendo assassinada”, afirma.
No dia seguinte, uma comissão de presos passou de cela em cela perguntando quantos haviam morrido ali. Segundo Monteiro, a conta deu 148 detentos. “Eu não aceito os 111”, diz ele, que não sabe o que poderia ter acontecido com os corpos.
“Nossa história é feita de sangue, suor e lágrimas, mas o Estado tenta esconder os fatos para se omitir das suas responsabilidades.”